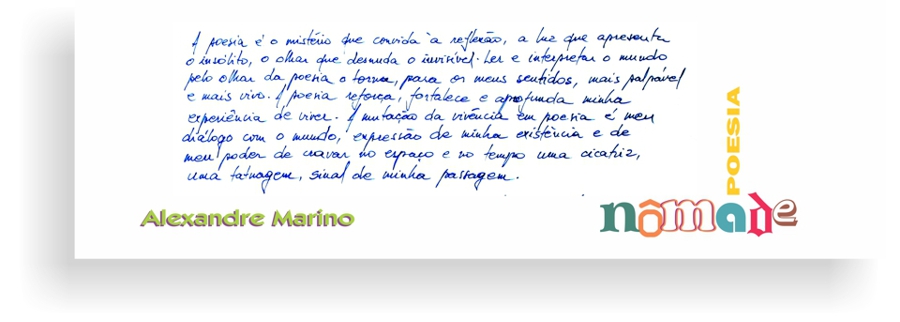Fui ver Aquarius, movido pelas polêmicas em torno do filme. Estrelado por Sônia Braga, teve sua primeira exibição em maio deste ano, no Festival de Cannes, na França, quando concorreu à Palma de Ouro – mas não ganhou qualquer prêmio. Vem tendo boa carreira internacional e principalmente no Brasil, onde estreou em 1º de setembro. Mas não foi escolhido para concorrer ao Oscar, o que acrescenta mais uma polêmica às que já havia provocado.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme ficou famoso antes de ser exibido por aqui, graças ao protesto promovido no tapete vermelho do Festival de Cannes, quando a equipe do filme exibiu cartazes denunciando um “golpe de estado” contra a então presidente Dilma Rousseff. A enorme repercussão da manifestação transformou o diretor e seu filme em queridinhos dos petistas e seus apoiadores, que batem palmas nos finais de sessão e gritam “fora Temer”. Ouvi alguns desses gritos no Cine Brasília, onde o assisti (mas não ouvi nenhum “volta Dilma”).
A primeira pergunta que me ocorre é: será que o filme faria o sucesso que está fazendo se não tivesse havido protesto em Cannes?
Cinema é indústria, mas também é arte. Se não for assim, não faz sentido refletir a respeito. E arte e política não costumam resultar em boa mistura. Por força dessa mistura, Aquarius vem sendo apresentado por alguns de seus fãs com adjetivos superlativos que não merece. É um filme mediano, que tem um grande mérito – segurar a tensão até o fim, ao deixar a plateia na expectativa do desfecho da queda de braço entre Clara (Sônia Braga) e a construtora Bonfim, que quer expulsá-la do apartamento onde mora, na praia da Boa viagem, em Recife.
Um parêntesis: até aqui, a história do filme é conhecida. A quem não viu o filme e não quer quebrar a surpresa do que se segue, recomendo que não prossiga a leitura, pois não há como comentá-lo sem falar do final.
Para acompanhar a história, o público encara 2 horas e 25 minutos de filme, que caberia em menos de duas horas. Se escrever é cortar palavras, como disse o poeta Drummond, filmar é cortar cenas. Mas o roteiro padece de excessos. Logo no início, uma festa comemora o aniversário de Tia Lúcia. O ano é 1980 e ela completa 70 anos. Enquanto crianças discursam, ela recorda cenas de sexo (explícito) que praticou ali pelos vinte anos – portanto, nos anos 1930. A cena da festa é extremamente longa e nada tem a ver com o restante do filme, a não ser pelo fato de que foi em cima da mesma cômoda agora pertencente a Clara que ela se ofereceu para o amante lhe fazer sexo oral.
Clara vive de recordações. É jornalista aposentada, e todos os vizinhos já venderam seus apartamentos para a construtora Bonfim. Só ela resiste. Na sua intimidade, ela ouve uma enorme coleção de vinis (que fornecem a ótima trilha sonora do filme), eventualmente cuida do neto, dorme numa bela rede, sai com as amigas para conversar futilidades ou desce para ir à praia, enquanto Ladjane, uma serviçal que trabalha para ela há 19 anos (e a adora) prepara na cozinha seus pratos favoritos.
Kleber Mendonça Filho tem uma ótima história nas mãos. O filme é um elogio da memória, da identidade e da resistência. Clara é uma personagem forte, pela disposição de lutar contra a construtora e pela batalha que travou no passado contra o câncer. Por outro lado, é uma burguesa cujo único projeto de vida é permanecer no apartamento onde mora – um dos cinco que possui, como confessa, no final do filme, ao engenheiro Diego Bonfim.
Aquarius discute questões da maior atualidade e importância no Brasil. A história e a memória versus o capitalismo sedento é uma delas. Dentro do apartamento, temos um exemplo da desigualdade social, com Clara curtindo suas recordações e Ladjane trabalhando para ela. Clara, aposentada e bem de vida, mora de frente para o mar. Ladjane, mais velha que Clara, vive em Brasília Teimosa, meio caminho entre bairro e favela. Outras questões colocadas na mesa são a homossexualidade, a ostentação do poder, a questão feminina.
O público supostamente de esquerda que ama o filme e engorda sua bilheteria toma as dores de Clara e se emociona com sua luta. O irônico é que os vilões do filme são os donos da Construtora Bonfim, empresa inescrupulosa provavelmente inspirada nas grandes empreiteiras nacionais – OAS, Odebrecht, etc – que se tornaram cúmplices dos governos do PT no gigantesco assalto aos cofres públicos promovido nos últimos anos. O público que continua apoiando o PT sabe do que os empresários da construção civil são capazes, mas talvez não recorde quem são os seus aliados.
O que segura o filme é a surpresa que parece se preparar para o final. As ações contra Clara incluem ofertas em dinheiro, pressão sobre os filhos, festas e orgias no apartamento ao lado, invasão por crentes de alguma igreja. Mas ninguém faz ideia do que vai acontecer.
E o que acontece? Clara descobre uma arma mortífera contra a construtora. São documentos que obtém num arquivo público. Quando os apresenta aos donos da empresa, eles, pela primeira vez, saem do sério. Mas que documentos são esses? O que eles provam? Não se sabe. À plateia, que tanto torceu por Clara, é sonegada essa informação essencial: qual é a arma usada por ela contra seus inimigos.
As luzes se acendem e ouvem-se aplausos. Depois, alguns gritos de “fora Temer”. As pessoas saem do cinema acreditando na vitória de Clara. Mas acontece que os cupins introduzidos pela construtora no prédio vão destruí-lo inapelavelmente. É uma metáfora do que acontece há anos no Brasil, onde as grandes empreiteiras, ao financiar as campanhas petistas, também introduziram na administração pública cupins insaciáveis. E depois cobraram seu preço.